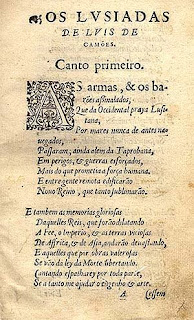domingo, 27 de janeiro de 2008
segunda-feira, 14 de janeiro de 2008
Pretextos (7)
Pedro Martins
A amizade atenta de João Aldeia fez-me chegar às mãos um livro de Caetano Veloso recentemente publicado em Portugal pelas Quasi Edições. Tem por título O Mundo Não é Chato e recolhe inúmeros dispersos do cantor baiano. A edição portuguesa preservou saborosamente a grafia do Português que se escreve no Brasil, oferecendo formal desmentido à tão propalada necessidade dessa rasoira nefasta que se chama Acordo Ortográfico.
Previamente, o João chamou-me a atenção para um certo escrito, que é o texto de uma conferência proferida no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1993. Nele, a dada altura, Caetano Veloso alude à sua passagem por Portugal, em 1969, rumo ao exílio em Londres, narrando o encontro em que, acompanhado por seu amigo Roberto Pinho, lhe foi dado conhecer em Sesimbra “um senhor português que cuidava do castelo medieval da colina e era tido como alquimista”. A este propósito, diz ainda lembrar-se “de umas ovelhas de chifres revirados, que se punham perto do velho, como se fossem animais de estimação. E do mar muito azul rodeando de longe as muralhas de pedra”.
O velho junto dos animais era, evidentemente, Rafael Monteiro, o legendário sesimbrense que, a despeito de, ao tempo, não haver ainda dobrado o cabo dos cinquentenários, se impunha já, na sua figura hierática, com as barbas austeras de um patriarca.
Caetano conta, então, haver cantado, ou talvez recitado, a Rafael, por sugestão de Roberto, o poema da célebre canção Tropicália, um dos hinos do movimento tropicalista, que o músico encabeçava. Rafael escutou o trecho, de imediata significação revolucionária, e de pronto o interpretou num outro e mais elevado sentido, conferindo-lhe, palavra por palavra, uma dimensão mística, profética e messiânica, com que assinava um fado radiante ao Brasil futuro.
Meio surpreso, e esboçando suaves protestos, logo Caetano pretendeu restituir ao sentido original a canção da sua lavra. Debalde o fez, pois o suposto velho do castelo medieval da colina, em sua sabedoria dúctil, lhe recordou com uma pergunta a fundamental liberdade que razoavelmente assiste a todo o intérprete da palavra alheia: “O que sabem as mães sobre seus filhos?”
No decurso revoluteante da sua prosa garrida, Caetano firma em Agostinho da Silva o traço de união com que liga os circunstantes daquele encontro. Curiosamente, não o faz passar por António Telmo, amigo comum a Rafael e a Roberto, por aqueles dias já regressado de Brasília, em cuja universidade leccionara a convite de Agostinho, e vivendo, então, em casa voltada a Sul, no sopé do morro onde o castelo de Sesimbra se alcandora. Certo é, na mesma altura, Caetano Veloso, na companhia circunspecta de um sorridente Gilberto Gil, ter também visitado António Telmo em Sesimbra. Prazenteira, fluida, cordata, a conversa entre o cantor brasileiro e o então novel filósofo de Arte Poética deixou entrever possíveis afinidades.
Na conferência proferida no museu carioca, agora recolhida nas páginas de O Mundo Não é Chato, Caetano, que não deixa de se questionar sobre uma possível missão brasileira à face do orbe, mostra-se avesso à via do misticismo. Não obstante, reconhece-lhe o sortilégio de uma sedução que, no seu dizer, lhe vem da excentricidade. E, para mais, mostra compreender como poucos a grandeza inteira de um poema maior como a Mensagem de Fernando Pessoa, que abertamente faz sobrelevar às poesias ortónimas, às odes de Álvaro de Campos e aos poemas de João Cabral de Melo Neto, o seu poeta favorito, e o mais extensamente lido. “Com Mensagem”, acrescenta o cantor, “eu me sentia em presença de algo mais profundo quanto a tratar com as palavras – por causa de cada sílaba, cada som, cada sugestão de idéia parecer estar ali como uma necessidade de existência mesma da língua portuguesa: como se aqueles poemas fossem fundadores da língua ou sua justificação final”.
Necessariamente diverso, o sebastianismo hesitante de Caetano Veloso denota natural suspicácia perante Ariano Suassuna, “um inimigo mortal do tropicalismo”. Mas talvez se encontre uma oitava acima da tibieza daquele professor português de literatura que o cantor, com discreta reserva, nos apresenta como uma “autoridade em história das relações entre modernismo brasileiro e modernismo português”, e a quem ouviu a confissão de um infundado temor inicial, entretanto desmentido, a respeito de Agostinho da Silva: o de que as suas ideias se identificassem com as de Salazar!
É certo que Caetano, tomado pelo receio de que o culto dos mitos medievais possa servir “de inspiração para extremados nacionalismos modernos”, não está livre de interpretar algumas “afirmações instigantes” de Suassuna à luz da frase famosa com que Salazar preferia ver Portugal pobre do que ver Portugal diferente. Mas a seu favor depõe a circunstância de intuir num poema da Mensagem, qual esse que Pessoa intitulou de “Os Colombos”, a grandeza que supera toda a inferioridade ao propor uma “transcendência da mágoa”.
Ficamos sem saber o que pensava do livro tradicional de Pessoa o tal especialista lusitano versado em modernismos de que o cantor nos fala. Mas sabemos, de ciência certa, o que dessa obra genial pensam hoje, contra todas as evidências, não poucos literatos portugueses. Caetano, o brasileiro que outrora deixou por responder a sábia pergunta de Rafael, veio agora mostrar-nos aquilo que os filhos podem saber sobre suas mães.
domingo, 13 de janeiro de 2008
AFORISMOS SOBRE PORTUGAL (2)
8. A indiferença jamais tocará a costa de qualquer ponto cardeal; nunca apertará a mão ao nosso semelhante, para lavrar futuras rotas do mapa-mundo. A indiferença jamais saberá que a Terra é redonda.
9. Há fragas no litoral que lembram quilhas de embarcações estáticas. Mas basta que a flor do sonho nasça, no silêncio prenhe de toda a intuição que há na pureza do orvalho nocturno, para haver fome do céu. E nesta ânsia, no que nos cabe de indeterminismo do nosso sagrado instinto civilizacional, a procura é o feixe quântico de todos os rumos do espírito.
10. Nós pelos outros; nunca nós por apenas nós. Está é a divisa pela qual poderíamos definir a ideia mais ampla de portugalidade. O que assim não for poderá dar lugar a alguma forma de desintegração, a uma cinzenta formatação de ideias de pseudo internacionalismos, ou até fortalecer alguma subtil forma de absorção pelos nossos vizinhos. Se a verdade a vemos como ilusão, na indecisão entre a face externa e o lado de dentro, poderemos admitir ou não, qualquer dia, um outro 1640.
Mas não deverá ser necessário outro Tratado de Tordesilhas, porque, para ir às «Índias do Espírito», parece não haver vizinhos por concorrentes...
11. Nos extremos raianos dos actos rígidos decretados e das rotundas da banalidade onde se cultivam torres de Babel, para além dessa fronteira, começa Portugal.
12. Os nossos olhos deixaram de ver longe, com lucidez, quando se voltaram para um ponto fixo, demasiado fixo. Vimos em demasia a cor e o preço da pimenta, e quantas vezes rejeitámos a temperança, embriagando-nos com o cheiro da especiaria. Aí criámos cataratas que importa retirar.
O nosso mandala deve ser o círculo, ou melhor, a esfera. Nos tempos em que se pressentiu que a fortuna poderia vir a desfazer-se, e quando vimos em demasia o caminho fatídico de expulsão de quem já morava no nosso coração, ainda assim, a melhor herança foi a esfera armilar, para nos lembrar da necessidade quotidiana de olhar o mundo. Diz-se na teoria do mandala que, até que tudo se harmonize, não se deve fixar ponto algum. O olhar deve ser uma totalidade. Só depois encontraremos o ponto central ou, se quisermos, alguma revelação. Em geografia somos periféricos. Espiritualmente, só nos podemos realizar no centro do mundo. Do lado de fora, há que olhar ainda a linha do horizonte.
13. «Se não é eleito, que se eleja!» Foi assim que Agostinho da Silva respondeu à pergunta habitual de quem geralmente cultiva meias-verdades sobre o nosso destino colectivo. Com rompante intuição, ou com sabedoria história, ou o Janus bifronte, o autor de Reflexão teria meditado naquele ponto tão enigmático como misterioso tem sido Ourique: o nosso primeiro Rei, ele próprio se armou cavaleiro, isto é, elegeu-se!
14. Constituição Europeia – a esfinge clonada.
Escaparate (5)
Pedro Martins
A Imprensa Nacional – Casa da Moeda iniciou recentemente a publicação dos dispersos de Sampaio Bruno com a edição de Os Três Frades e outros textos de ficção. Trata-se uma recolha de escritos ficcionais da juventude, vindos a lume em diversos títulos da imprensa portuense, que não podem deixar de nos impressionar, seja pela imaginação quase prodigiosa com que o jovem Bruno urde e arquitecta a trama narrativa, seja pelo domínio irrepreensível do idioma, pouco menos do que impensável num autor que dá os seus primeiros passos ainda com 14 anos, mas que o leitor não deixará de reconhecer.
O que em Bruno era espantosa precocidade teve de pagar tributo a uma imaturidade inevitável. Os cinco títulos agora compilados são obras inacabadas, que se traduzem, as mais das vezes, em esboços e fragmentos. A única que apresenta envergadura considerável é precisamente a que dá título ao volume e nela perpassa um anticlericalismo feroz e extremo, que realça até à disformidade caricatural os piores defeitos de um clero profundamente reaccionário. Bem evidentes são as ressonâncias da dilacerante guerra civil oitocentista, que não deixaram de calar fundo no espírito sequioso de verdade, justiça e paz que José Pereira de Sampaio sempre foi. Tomando partido óbvio pelo campo liberal para execrar as hostes miguelistas, o narrador de Os Três Frades, enredado que surge na agonia cruciante de um debate, não mais do que aparente, entre o bem e o mal, faz, por um lado, adivinhar proximamente o escritor de Análise da Crença Cristã, (o livro de estreia de Bruno, vindo a lume em 1874), mas permite, por outro, entrever, na lonjura da distância, o metafísico teodiceico d’A Ideia de Deus e o pensador messianista d’O Encoberto.
Virá a propósito aqui recordar José Marinho, porventura o intérprete mais lúcido deste filósofo heterodoxo e saturnino. Começando por considerar que nenhum outro pensador português terá, como Bruno, chegado a conclusões tão diferentes do ponto de partida, não deixa, porém, Marinho de acrescentar que, “entre aquilo de que parte e aquilo a que chega há, certamente, nexo íntimo”, pois, “com o contraste de aparência, subsiste vínculo profundo”. Lembramo-nos então de António Telmo, quando aponta ao erro do socialismo a verdade de uma luz refractada. O caso de Bruno foi, afinal, o de saber ver mais alto.
sábado, 12 de janeiro de 2008
ENIGMA
sábado, 5 de janeiro de 2008
AFORISMOS SOBRE PORTUGAL (1)
Eduardo Aroso
1. Inês de Castro só depois de morta reinou para sempre. E Portugal? Degolado pela inveja (última palavra de Os Lusíadas) no seu verdadeiro amor, não será também pátria, mito e arquétipo, só depois da fatalidade, ocorrida ou ainda a verificar-se? Ergamos-lhe o território sem delimitações de alma; o trono assente no coração do povo; na representação dos hemiciclos, ou ciclos da verdade, em discussão universal.
2. A saudade é o milagre do concreto. Lembrar-se é ser arrastado para a verdade de algo que já foi, ou de um dia longínquo ainda, e que se sabe ser também certo.
3. “Portugal”. É com aspas que se tem lavrado o nome, no sagrado solo do decorrer do tempo. Retiremos as aspas com que se tem escrito Portugal. Elas não vêm de cima, do céu, mas dos térreos baixios, como as ervas daninhas e musgosas que sobem pelas paredes dos espaços abandonados onde não habita viva alma.
4. A ciência - a materialista, entenda-se - é uma mística iludida. A moderna obsessão dos nossos governantes pelas estatísticas é uma espécie de remorso pela falta de virtudes.
5. O conjunto de todos aqueles que pensam a pátria é, sem necessidade de demonstrações históricas, o Portugal virtual ou aquele que ronda o arquétipo. Por isto se deduz, pela via contrária, que na sociedade actual possa haver o Portugal efémero.
6. Não sei se a memória distante é a mais nítida. É, porém, a mais duradoura.
7. Em Lusofilias, de Paulo Ferreira da Cunha (obra que já tardava), o autor, citando Pedro Moura e Sá, escreve: «... A nossa situação actual no mundo nos permite falar de Europa, porque não contribuímos em nada para a destruir. Por erros tremendos ou em virtude de circunstâncias trágicas, quase todas as nações do nosso continente se viram envolvidas na luta e na destruição. Portugal não tem remorsos perante a Europa, porque nada fez contra ela».
Também o Brasil nunca se incomodou muito com guerras.
sexta-feira, 4 de janeiro de 2008
Pretextos (6)
Pedro Martins
Lê-se no Diário de Notícias de hoje que “o petróleo barato acabou”. Trata-se de uma opinião, não de uma notícia. As opiniões produzem, por natureza, um efeito calmante em quem as ouve ou em quem as lê. O positivismo sempre teve a virtude de recusar sofísticas: prefere o facto, o que está feito.
Mas a opinião do jornal é a opinião de um jornalista, imerso em notícias. Um dia, porventura não muito distante, as notícias poderão ser diferentes. Por exemplo: “o petróleo acabou”. Por enquanto, e segundo o nosso plumitivo, os áugures da ciência do mando entrevêem uma quebra irremediável na produção da substância, alcançado que foi o pico da extracção do crude. E o jornalista acrescenta: “a partir daí podem imaginar-se todos os perigos para a civilização mundial como a conhecemos hoje – toda baseada no petróleo – em guerra por um escasso bem essencial”.
Ao fazer cair o pano sobre o seu São Paulo, Pascoaes, confessadamente, mal pode esperar por esses dias do fim, que serão também os de um outro princípio: “Esta civilização americana depende de materiais esgotáveis ou em quantidade limitada. A fábrica, esse templo moderno, há-de ser destruída, como o templo de Artemisa, em Éfeso, e o de Vénus, em Pafos. Templo quer dizer túmulo, casa dos mortos, que os mortos foram os primeiros deuses. Foram eles que dirigiram, para além do mundo, a atenção dos vivos. Destruída a fábrica pagã, teremos a igreja de Cristo, a confraria dos irmãos, o convívio universal e amoroso”.
Diferentemente do jornalista, não teve o poeta de esperar pelas notícias. A lucidez dos vates pode sempre ser explicada, mas quase nunca é compreendida. Diferentemente do jornalista, Pascoaes não lamentava perder a civilização em que vivia, afinal em tudo idêntica à “civilização mundial como a conhecemos hoje”. Ainda numa das derradeiras páginas do São Paulo, o escritor descreve-a pelo seguinte modo: “Nesta orgia industrial moderna, paródia em ferro e vapor, da orgia pagã, o homem está morto ou isolado do seu espírito. Existe, mas não vive. Existe a duzentos quilómetros à hora, mas com a vida parada, dentro dele. Vida inerte numa existência delirante. Seduzido pelo ruído e movimento, as duas faces desta civilização americana ou neo-neroniana, integrou-se num sistema mecânico industrial, e é simplesmente uma engrenagem. O ideal da ciência é a morte absoluta; a morte da alma e a do corpo: ateísmo e milinite”.
Um dia, já no Inverno da vida do mestre, António Telmo e Rafael Monteiro foram visitar Almada Negreiros. Em dado momento da conversa, quando se falava da velha Sesimbra e da moderna praga do turismo, o pintor elogiou superlativamente a beleza natural das paisagens que rodeiam a vila piscatória: “Sesimbra é tão bela que nem uma bomba atómica a pode destruir”. Irreverente, Rafael Monteiro apressou-se a acrescentar: “Que venha então a bomba atómica, para se acabar de vez com o turismo!”. Tal como Pascoaes, poeta que lia e admirava, Rafael ansiava por um novo começo. Nada sabemos desse recomeço, o que não pode deixar de nos angustiar. Mas é também a dúvida que sustenta a esperança.
terça-feira, 1 de janeiro de 2008
Escaparate (4)
Sobre o Jesus Cristo em Lisboa,
Pedro Martins

Ficamo-lo a saber pelo notabilíssimo trabalho editorial de Pinharanda Gomes, que além de ter reunido, para a presente edição, um acervo documental, tendencialmente exaustivo, que permite avaliar a recepção da obra, nos oferece ainda, em posfácio intitulado Jesus Cristo em Lisboa, Um Auto Messiânico, um aturado ensaio sobre a tragicomédia. No conjunto, são noventa páginas adicionais com preciosos informes, indispensáveis à melhor compreensão do auto de Brandão e Pascoaes. Um traço saliente que emerge da sua leitura é o respeitante à celeuma que o livro desencadeou junto de alguns círculos católicos, como os que eram representados pelo jornal A Voz, um diário da capital em cuja edição de 24 de Janeiro de 1928 surge inserta violenta notícia sobre o Jesus Cristo em Lisboa. Nela se previne os leitores “de que o livro dos Srs. Pascoaes e Brandão não deve ser comprado nem lido pelos católicos”. O escrito, em que se transcreve parte de um artigo publicado, na véspera, no Diário de Lisboa, chega a ser insultuoso para os dois escritores (a quem se atribui, pasme-se, um estado de acentuada decadência!).
Pascoaes não gostou, e escreveu de imediato ao periódico católico. Poucos dias depois, dará a resposta devida ao Diário de Lisboa, já subscrita também por Raul Brandão. A tónica que perpassa as duas reacções pode resumir-se nisto: não há na peça o menor ataque a qualquer dogma da Igreja, antes o intuito de acordar o espírito cristão no meio social. Não é heresia representar Jesus num trabalho literário, como o não é pintar ou esculpir a figura de Cristo.
A verdade é que não se vislumbram sinais heréticos neste livro admirável. Não será de crer que dois dos mais poderosos criadores literários portugueses do século XX tenham amiúde e insistentemente citado trechos dos Evangelhos (sobretudo do de Mateus, mas também dos restantes) para encobrirem supostas carências da sua imaginação. A pertinácia com que as personagens de Pascoaes e Brandão actualizam, pela palavra ou pelo gesto, as passagens do Novo Testamento, parece radicar no propósito preciso de colocar a acção dramática em perfeita conformidade com os ensinamentos de Cristo.
2. Mas a evidente ortodoxia desta obra não significa, porém, que nela se deixe de questionar seriamente a Igreja Católica – ao contrário do que em diferentes momentos foi sendo aventado. No meu entendimento, os instantes finais do primeiro quadro, em que Jesus e um pároco de aldeia se interpelam mutuamente, e todo o quinto quadro, passado na catedral de Lisboa (e que parece ser da exclusiva lavra de Pascoaes), são, a este propósito, bem mais significativos do que, um tanto apressadamente, e a uma primeira impressão, se possa julgar.
No quadro inicial da peça, passado na serra, o acolhimento de Jesus no seio de uma cozinha aldeã onde se encontram vários jornaleiros não pode deixar de surpreender: este homem não sabe salvar e os seus dizeres são estranhos, mas também sublimes e, por isso, as suas palavras arrebatam os pobres. Chamado a intervir pela dona da casa, o reitor local faz notar a Jesus que não entrou na igreja, ao passar pela estrada, ao que o Redentor lhe responde ter rezado, no caminho, a seu Pai que vê tudo o que se passa e nos dará a paga. Que o regressado Cristo, não se tendo ainda manifestado como tal, comece por ignorar ostensivamente a “sua” Igreja, antepondo ao culto institucional uma pessoalíssima visão da relação do homem com o divino, é, já de si, circunstância muito significativa, que há-de ser ponderada à luz da matriz priscilianista que confessadamente condiciona o pensamento de Pascoaes.
Acto contínuo, o sacerdote dirá a Jesus já ter visto que ele fala muito e sabe demais; que certas cousas não se fizeram para todos os homens; e que ele é um pobre soberbo. Mas, quase de seguida, Jesus, segundo nos mostra a indicação cénica, chama o sacerdote, “atrai-o a si, fala-lhe ao ouvido e deixa-o atónito, a encará-lo”. Acabou, por certo, de lhe dizer algo com que revelou, para além da dúvida, a sua divina identidade. Percebe-se que o padre vacila, mas, interpondo-se no seu caminho, acaba por impedir os pobres aldeões de acompanharem o Redentor. Vale a pena transcrever toda a fala do reitor:
“Nem um passo! E diante do ímpeto para a porta que Jesus transpôs atira-lhes com o escabelo de mesa para as pernas. Ninguém sai! Então, eu baptizo-vos, eu caso-vos, eu acompanho-vos na vida e na morte, a vocês, às vossas mulheres e aos vossos filhos – levo-vos com os olhos fechados, através desta vida, e vocês querem-me deixar por ele? Sobe os degraus, abre os braços diante do grupo, que estaca na arremetida: Aqui não passa ninguém!”
Pouco depois, no final do quadro, o sacerdote, “sempre à porta, deixando cair os braços”, dirá, muito significativamente:
“Por vossa causa meti talvez a alma no inferno”.
Na sua singeleza, tão breve quanto aparente, o episódio do recontro entre o reitor e Jesus reveste-se de uma dimensão tremenda. De um lado, o apelo exaltante e libertário a uma experiência religiosa permanentemente vivida na pureza das coisas essenciais, que nos é feito por Jesus, e que convoca o lastro priscilianista, joaquimita e franciscano patente sobretudo na obra de Pascoaes; do outro, o irresistível apego mundano do sacerdote à segurança confortável de uma rotina mecânica e degradante, mas agora já inquinado por uma má consciência perturbadora, que dá a imediata medida da decadência. Essa má consciência não diverge essencialmente do incómodo que, calculista ou sincero, iremos reencontrar na mulher do comissário da polícia (no segundo quadro) ou nos políticos (reunidos no quarto quadro) que, a final, decidem matar Jesus. Não há diferença de natureza, ou sequer de grau; apenas a projecção de um enfoque privilegiado sobre uma determinada classe, porventura por razões tácticas, decerto inconfessáveis a quem o curso dos anos ensinara a prudência das serpentes como regra de vida.
Com efeito, a dificuldade invencível do reitor provinciano em deixar partir as suas ovelhas, e em deixar ele mesmo o redil em que as encerra, é a mesma afinal confessada por um dos ministros que vamos surpreender reunidos no quarto quadro da peça: Jesus, reconhecido como o Cristo, “terá talvez razão; está talvez na verdade; mas a verdade absoluta não pertence às regiões inferiores”, pois “o mundo, para ser o que é, não pode viver da verdade”. “E este mundo, como ele é, pertence-nos a nós defendê-lo”, acrescentará terminantemente o político.
No primeiro quadro, o pároco de aldeia, tendo embora reconhecido no pobre soberbo a pessoa de Cristo, e não podendo ignorar que neste é que está a verdade, resigna-se, porém, a defender o seu pequeno mundo, confinado aos horizontes estreitos da sua paróquia, de forma a preservar a parcela de poder que esta lhe confere – ainda que, com isso, possa conscientemente perder a sua alma. De igual modo, no quarto quadro, o chefe dos ministros, reconhecendo tratar-se – “com certeza!” – de Jesus Cristo, afirma, porém, a necessidade da sua eliminação: “Meus senhores, a verdade é esta: nós não podemos com o que Ele quer. De toda a maneira, temos de nos arriscar, sabendo mesmo que perdemos a nossa alma”.
Como se acabou de ver, no fundo, nada separa a Igreja, representada por um dos seus provincianos ministros, dos políticos que, em Lisboa, formam o ministério. A atitude do reitor no primeiro quadro da peça pode bem ser ilustrada pela afirmação desesperada de um dos políticos da capital: “Não. Temos de defender o mundo que criámos, temos de o defender até contra Deus!”. Inarredável, topamos sempre com o mesmo obstáculo: a mensagem de Cristo é sobre-humana.
3. Radicado embora em premissas diferentes das conclusões a que, mais tarde, acabei por chegar em O Anjo e a Sombra – Teixeira de Pascoaes e a Filosofia Portuguesa, considerou António Cândido Franco ser o Regresso ao Paraíso o livro de Pascoaes “que melhor age, pelo menos ao nível dos valores soteriológicos, com o publicado em 1927” (A Literatura de Teixeira de Pascoaes, p. 369). A asserção parece-me justíssima e, na ligação que estabelece, permite acentuar a vertente de crítica ao catolicismo romano que esta peça escrita a quatro mãos verdadeiramente contém.
Perigoso será deitarmo-nos a adivinhar qual o significado encerrado na circunstância de, em toda a peça de Brandão e Pascoaes, o Diabo apenas se manifestar no quinto quadro, justamente passado na catedral, e em cujo final Jesus será entregue aos soldados, que entram na igreja para o prenderem. É na casa do Senhor que Satã, posto à solta, dá largas às suas palavras, numa sucessão de cenas em que, se exceptuarmos uma fala estranhamente desgarrada e anódina, não se vislumbra a presença de qualquer sacerdote! Para tanto, o Diabo, figurado numa escultura de altar, desenrosca-se previamente dos pés de São Miguel e vem para junto de Jesus Cristo, precipitando uma sequência de estranhos diálogos, ora bizarros, ora fecundos.
Retomando a pista facultada por António Cândido Franco, curioso será notar que a harmonia vislumbrada no Regresso ao Paraíso – no poema de 1912, o triunfo do Deus Infante mais não é do que a vitória do Arcanjo da Saudade, Metraton, ou Mikäel, sobre o tenebroso Samaël – nos surge agora subitamente quebrada no Jesus Cristo em Lisboa, tão certo é o Diabo deixar de estar sob o jugo do Arcanjo São Miguel. Na leitura cabalística e paraclética que propus em O Anjo e a Sombra, não me limitei a ver nesta harmonização dos contrários a superação sefirótica do dualismo entre o bem e o mal. Integrei-a numa interpretação que desoculta no poema uma representação alegórica do advento da Idade do Espírito Santo, num quadro de referências em que, na esteira de Henry Corbin, Álvaro Ribeiro ou António Telmo, o esoterismo cristão de Dante e seus sequazes nos leva a alcançar surpreendentes conclusões. Uma delas, evocando A Divina Comédia e o arrojo hermenêutico de Gabriel Rosseti, permite descobrir a Igreja de Roma simbolizada no Inferno engendrado por Pascoaes. Dito isto, o leitor saberá somar dois mais dois.
4. Em rigor, o Jesus Cristo em Lisboa não pode ser interpretado à margem do D. Carlos, o outro livro dramático que Pascoaes assinou, e que, de algum modo, lhe é contemporâneo (concluído em 1919, foi publicado em 1925). As coincidências estrutivas que os irmanam são surpreendentes: um regicídio e um deicídio, ambos tendo por palco o Terreiro do Paço, símbolo do nefasto iluminismo pombalino.
Emergindo no estertor da Primeira República, e, portanto, numa época de arrependimento e desilusão, estas duas peças oferecem o contraponto a esse superior díptico formado pelo Marános e pelo Regresso ao Paraíso, com que, na hora luminosa do entusiasmo renascentista, Pascoaes, calibrando o trilho escatológico pela gnose da Saudade, pretendia vincular a sorte do mundo ao destino messiânico da pátria. A esta luz, o Jesus Cristo em Lisboa e o D. Carlos são obras de síntese, que, pela mediação dos longos poemas míticos de 1911 e 1912, não deixam de reflectir matricialmente o deicídio aflorado n'A Velhice do Padre Eterno e o regicídio implícito na Pátria e nos poemas menores (A Marcha do Ódio; Finis Patriae) que lhe são adjacentes. A diferença está toda nisto: a mocidade paraclética do Deus Infante, que nasce no Marános para, no Regresso ao Paraíso, viver da morte de Jeová, não obsta à conversão católica (se não lograda, ao menos desejada) de Junqueiro, sugerida no quinto quadro da peça que Pascoaes compôs com Brandão. De igual sorte, o criacionismo saudosista do Marános nada pôde contra o remorso de um vate que, como nenhum outro, experimentou na metáfora assassina o poder desmedido da palavra, para aqui retomarmos a feliz expressão de António Cândido Franco. Bem se compreende que houvesse de ser um outro poeta a remir-lhe a culpa. Por isso, e para isso, compôs Pascoaes o D. Carlos, um livro terrível e penitente, que nos ajuda a compreender por que não pode a condição portuguesa ser separada do destino da humanidade. Claro que estas e outras relações não cabem num escrito desta natureza, antes pressupõem um estudo bem mais alongado. O facto de me encontrar, presentemente, a urdi-lo ditou a extensão deste artigo, levando-o para além dos limites reconhecíveis a uma simples recensão.
sábado, 29 de dezembro de 2007
Pensando à bolina (13)
A flor da Saudade é a Açucena
Pedro Sinde
Lilium Album. The book of plants, Basilius Besler
 Quem assim o diz é Isidoro de Barreyra, um desses monges secretos que Sampaio Bruno tanto gostava de repescar, perdido no labirinto estreito de uma qualquer biblioteca. O livro em que o diz tem o seguinte cativante título: Tratado das significaçoens das plantas, flores, e fruttus, que se referem na sagrada escrittura, tiradas de divinas, e humanas letras, com suas breves considerações.
Quem assim o diz é Isidoro de Barreyra, um desses monges secretos que Sampaio Bruno tanto gostava de repescar, perdido no labirinto estreito de uma qualquer biblioteca. O livro em que o diz tem o seguinte cativante título: Tratado das significaçoens das plantas, flores, e fruttus, que se referem na sagrada escrittura, tiradas de divinas, e humanas letras, com suas breves considerações.Isidoro de Barreyra, foi monge da Ordem de Cristo em Tomar, no Convento de Cristo. Este livro interessantíssimo é de 1622. Também Camilo o refere a propósito da Saudade.
Os saudosistas deviam atentar neste facto interessante que é o de haver uma flor que é o símbolo da Saudade.
Se seguirmos atentamente a explicação de Isidoro de Barreyra veremos que há ali uma cifra. Em primeiro lugar o monge começa por nos apresentar a Açucena na sua significação bíblica como símbolo de pureza. Aparece, por essa razão, ao lado da Virgem nas representações da anunciação. De seguida, muda o discurso e, ao contrário do que acontece no resto do livro, refere a significação da Açucena "entre nós", pressupõe-se que querendo dizer entre os portugueses, mas pode ter outra significação mais funda.
Ora, entre nós, a Açucena significa não a pureza, mas a Saudade. A justificação que o monge dá para isso é muito interessante, sobretudo porque não é exacta. Quer dizer, Isidoro de Barreyra explica que a Açucena tem a característica de florir mesmo quando cortada ou arrancada da raiz e colocada num recipiente com água. Ora, isto é exacto, o que não é exacto é que a Açucena seja a única flor com esta propriedade e se essa é a razão para que seja ela a simbolizar, em vez de outra, a Saudade, então há aqui um erro estranho. É por esta razão que me parece que aqui se esconde qualquer coisa de muito importante e que eventualmente estaria ligado com a Ordem de Cristo naquela altura. Um observador tão fino, como era Isidoro de Barreyra, nunca cometeria um erro tão grosseiro; o erro é uma cifra.
Do meu ponto de vista, Isidoro de Barreyra está a cifrar algo muito importante ligado à tradição portuguesa e à Ordem de Cristo. A forma pela qual ele apresenta o assunto ali no livro, dá a entender que a Açucena representa exotericamente a pureza na iconografia Católica, mas esotericamente representa a Saudade, na tradição portuguesa. Isidoro de Barreyra diz assim: "E ainda que muitos attribuão isto à puresa da Virgem, com tudo segredo tem pintaremse as Cessens [Açucenas] só neste mysterio, & não em outros."
Tudo isto me parece ligado à noção de exílio. No próximo Pensar à bolina procurarei explicar, se vi bem, qual a razão.
sábado, 22 de dezembro de 2007
Vox populi, vox Dei (2)
Fia-te na Virgem e não corras...
Gil da Gama
À superfície, parece tratar-se de um adágio com fácil interpretação: o melhor é fazeres o que tens a fazer e deixares-te de "crendices". Mas isso é apenas à superfície, porque se olharmos bem veremos que este adágio é o que é mas ao contrário do que é; vou-me explicar. Basta que invertamos a ordem dos factores, que, neste caso, não tem nada de arbitrário, e logo veremos de outro modo: não corras, fia-te na Virgem. Assim visto, estamos perante algo de uma natureza diferente, equivalente a outros adágios do mesmo tipo e que demonstram a forte confiança do povo português no sobrenatural: Mais vale quem Deus ajuda, do que quem muito madruga ou O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Mas como no povo português convivem duas almas em simultâneo, uma idealista e outra realista, uma que o faz acreditar no fado e outra que o faz ver que está no mundo para agir, temos de encontrar um ponto em que as duas almas, opostas só na aparência, se reúnam, aquele ponto em que o português possa voltar a dizer como disse Pessoa:
O homem e a hora são um só
Quando Deus faz e a história é feita.
Aqui, é Deus o motor imóvel e o homem é aquele que, sendo movido, faz mover; é o construtor de pontes, restaurou a sua condição primordial de pontifex.
Em qualquer um destes adágios é patente a ideia de que a acção humana desligada do divino é "nada"; não há um convite à inacção, mas apenas a ideia de que aquilo que o homem tem, pouco ou muito, se for acompanhado do divino, é "tudo". Se é verdade que Deus escreve certo por linhas que ao homem parecem tortas, então aceitando a aparente sinuosidade com que se tece cada um dos nossos destinos, poderemos entrever a grandiosidade de um destino maior que se cumpre livremente para glória do mais alto. Assim possamos dizer: Fia-te na Virgem e corre…
terça-feira, 18 de dezembro de 2007
Escaparate (3)
Contos da Coluna do Meio,
de João Rêgo
Desaparecido, de forma trágica e prematura, num acidente de aviação ocorrido em Julho deste ano, pôde, porém, felizmente João Rêgo deixar-nos um apreciável testemunho espiritual no livro intitulado Contos da Coluna do Meio, onde se recolhem textos publicados na imprensa local de Montemor-o-Novo, onde o escritor residiu entre 1987 e 2005.
As linhas mestras deste pequeno volume tornam patente a influência da filosofia portuguesa – a cujo grupo pertenceu – no trajecto filosófico do autor: a sugerida crença no poder criador e movente do pensamento reflectido na palavra ou a confiança reiterada na interventora misericórdia divina são assomos autênticos de esperança e de caridade nas breves páginas destes Contos da Coluna do Meio, na linha do pensamento de Álvaro Ribeiro, filósofo a quem João Rêgo havia consagrado a elaboração de uma importante antologia (A Medicina em Álvaro Ribeiro, Edições Tomé Natanael, 1992).

Com excepção do derradeiro escrito – que, aliás, confere o título à recolha –, todos os restantes são dedicados a personagens femininas, numa exaltação nobilitante da figura da mulher, que se furta aos preconceitos feministas para implicitamente os repelir. Para tanto, o autor recorre, não raras vezes, ao cânone literário universal, lançando mão de narrativas mitológicas, históricas e ficcionais, cuja exemplaridade é trazida à evidência por mor de uma exegese lúcida e inteligente. A tudo isto acresce a mestria de um comunicador dotado, que, dirigindo-se a um público heterogéneo e presumivelmente não iniciado, terá sabido, por certo, motivar nos leitores a apetência pelos grandes textos clássicos, a partir de uma pessoalíssima visão filosófica, a que a força sugestiva do título dado ao livro oferece esclarecedora coloração.
sábado, 15 de dezembro de 2007
Vox populi, vox Dei (1)
Gil da Gama
Nogueira, Árvores de Portugal (Guia FAPAS)
 Nestes tempos do fim, o povo assume uma importância inaudita. Os sábios são cada vez em menor número e, cautelosos, são cada vez mais reservados. Na ausência dos sábios, que são o intelecto activo de um povo, resta-nos a memória que guarda os seus ditos ou adágios. Ao povo está reservada a nobre tarefa de ser o guardião da sabedoria.
Nestes tempos do fim, o povo assume uma importância inaudita. Os sábios são cada vez em menor número e, cautelosos, são cada vez mais reservados. Na ausência dos sábios, que são o intelecto activo de um povo, resta-nos a memória que guarda os seus ditos ou adágios. Ao povo está reservada a nobre tarefa de ser o guardião da sabedoria.Os adágios não pertencem a uma época, pelo contrário, são a expressão da condição humana. Podem ser comparados aos Salmos, ambos representam o homem universal. Ninguém conhece a origem dos provérbios; vindos do dia dos tempos primordiais, providencialmente guardados, como numa arca de Noé, no seio do povo, dirigem-se, pois, ao ser humano decaído, dando-lhe preciosas indicações para a sua redenção.
Nos adágios escondem-se sempre vários sentidos latentes, dos quais o povo usa, e bem, apenas o primeiro, o mais evidente.
Os desdenhosos e os invejosos usam e abusam do adágio que diz: Deus dá as nozes a quem não tem dentes. A interpretação imediata deste provérbio diz-nos que a sorte parece mal distribuída, revela-nos o descontentamento daqueles que vêem a desordem do mundo, daqueles que sempre estão descontentes. Uma interpretação mais funda leva-nos, porém, para outro lado: a noz é o sinal do conhecimento, dentro da casca dura está o fruto bem protegido. É conhecida a impressionante analogia entre a noz e o cérebro, basta ler as formas, para que logo nos ocorra a bela expressão de Jacob Boehme, que dá título a um dos seus mais curiosos livros: De signatura rerum, Sobre a assinatura presente nos seres, em tradução livre.
A noz, sendo a expressão do conhecimento verdadeiro, bem protegido, é entregue por Deus àqueles que não têm dentes, porque só esses não o trituram, não o desfazem, não se podem apoderar dele; dar nozes a quem tem dentes, seria como dar pérolas a porcos ou, para lembrar um outro provérbio mais esquecido: comida fina em corpos grossos faz mal aos ossos. O povo português exprime um saber espontaneamente aristotélico, sabendo reconhecer que cada coisa tem o seu lugar natural e, por isso mesmo, cada coisa procura o seu lugar natural. Desejar um lugar que não é o da sua natureza é a fonte da inveja e da desordem patente no mundo, pois hoje todos querem o que os outros têm e ninguém ama aquilo que tem.
terça-feira, 4 de dezembro de 2007
A sombra de Eurídice (5)
Carlos Aurélio
Contigo, minh’alma, desci
Até aos confins da incompreensível dor,
Por abruptas feridas abertas de cor,
Em ti me perdi e me achei de memória.
Memória, essa agulha que cose, essa faca que corta
Coisas e loisas, vidas, lixo e chicória,
Esse sangue corrido, fendido,
Essa voz ouvida, enrouquecida,
Memória, esse silêncio que engendra a vida já morta.
Fui contigo de mão dada
Visitar a dor, cego e seco em meu desalento,
Desci sem lágrimas o declive que sugava
Até às goelas escancaradas, ó infernal tormento!
Desci, desci sempre,
Empurrado por mim, puxado p’lo diabo,
Até que, farto, estanquei e disse: “Aqui acabo!
Já não vejo céu que me levante.
Onde és, meu Deus?...Como vou adiante?”
Chamei-te, ó pedra surda,
Ainda vi luz e orvalho ─ estou a lembrá-lo.
Ansiei por ti, ó morte, sombra da árvore bendita,
E também te vi cansada, desdita.
Falavas com o vento, ias tu consolá-lo.
Disse adeus e abracei-vos, ó céus,
Juntei as mãos e pus-me todo dentro delas,
Ergui-as já secas, ardendo lúgubres como velas,
E assim desci, consumido em mortalhas e véus.
Gritei por ti, ó andorinha fugidia,
E só vi penas negras, no céu as primeiras
Asas que, com o meu Anjo me alembravam
As preces de Jesus no Horto das Oliveiras.
Subi, subi sempre,
E clamei por vós, gente irmã,
Olhares tardios do amor abandonado,
Rostos baços de vida vã,
Calvário sem Domingo ressuscitado.
Até que por ti, ó Espírito, então reconheci:
Morri e, enquanto anoitecia, já era o sol que se erguia.
Ei-lo pujante, hóstia solar, a verdadeira,
Vi-o a levantar-me da cama derradeira.
Contigo minh’alma então sim, vivi,
E perguntei aos choupos e vendavais:
“Que milagre é este? Morro de pé, bem o sei!”
E eles assim mudos, silentes e sem ais,
Me disseram: “É a tua voz que te acorda,
a do sol,
a do teu Cristo e teu Rei!”